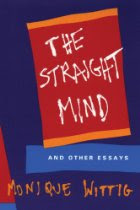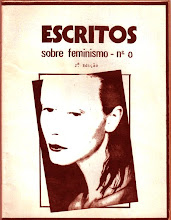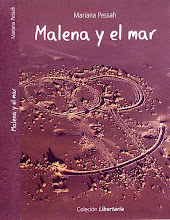Joan Scott **
Gênero, Gram. Categoria que indica por meio de desinência uma divisão dos nomes baseada em critérios tais como sexo e associações psicológicas. Há gêneros masculino, feminino e neutro.Novo Dicionário da Língua Portuguesa (Aurélio B. de Hollanda Ferreira).
Aqueles que se propõem a codificar os sentidos das palavras lutam por uma causa perdida, porque as palavras, como as idéias e as coisas que elas significam, têm uma história. Nem os professores de Oxford, nem a Academia Francesa foram inteiramente capazes de controlar a maré, de captar e fixar os sentidos livres do jogo da invenção e da imaginação humana. Mary Wortley Montagu acrescentava a ironia à sua denúncia do “belo sexo” (“meu único consolo em pertencer a estegênero é ter certeza de que nunca vou me casar com uma delas”) fazendo uso, deliberadamente errado, da referência gramatical. Ao longo dos séculos, as pessoas utilizaram de forma figurada os termos gramaticais para evocar traços de caráter ou traços sexuais. Por exemplo, a utilização proposta pelo Dicionário da Língua Francesa de 1879 era: “Não se sabe qual é o seu gênero, se é macho ou fêmea, fala-se de um homem muito retraído, cujos sentimentos são desconhecidos”. E Gladstone fazia esta distinção em 1878: “Atenas não tinha nada do sexo a não ser o gênero, nada de mulher a não ser a fama”. Mais recentemente – recentemente demais para encontrar seu caminho nos dicionários ou na enciclopédia das ciências sociais – as feministas começaram a utilizar a palavra “gênero” mais seriamente, no sentido mais literal, como uma maneira de referir-se à organização social da relação entre os sexos. A conexão com a gramática é ao mesmo tempo explícita e cheia de possibilidades inexploradas. Explícita, porque o uso gramatical implica em regras que decorrem da designação do masculino ou feminino; cheia de possibilidades inexploradas, porque em vários idiomas indo-europeus existe uma terceira categoria – o sexo indefinido ou neutro. Na gramática, gênero é compreendido como um meio de classificar fenômenos, um sistema de distinções socialmente acordado mais do que uma descrição objetiva de traços inerentes. Além disso, as classificações sugerem uma relação entre categorias que permite distinções ou agrupamentos separados.
No seu uso mais recente, o “gênero” parece ter aparecido primeiro entre as feministas americanas que queriam insistir na qualidade fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo. A palavra indicava uma rejeição ao determinismo biológico implícito no uso de termos como “sexo” ou “diferença sexual”. O “gênero” sublinhava também o aspecto relacional das definições normativas de feminilidade. As que estavam mais preocupadas com o fato de que a produção dos estudos femininos centrava-se sobre as mulheres de forma muito estreita e isolada, utilizaram o termo “gênero” para introduzir uma noção relacional no nosso vocabulário analítico. Segundo esta opinião, as mulheres e os homens eram definidos em termos recíprocos e nenhuma compreensão de qualquer um poderia existir através de estudo inteiramente separado. Assim, Nathalie Davis dizia em 1975: “Eu acho que deveríamos nos interessar pela história tanto dos homens quanto das mulheres, e que não deveríamos trabalhar unicamente sobre o sexo oprimido, da mesma forma que um historiador das classes não pode fixar seu olhar unicamente sobre os camponeses. Nosso objetivo é entender a importância dos sexos, dos grupos de gêneros no passado histórico. Nosso objetivo é descobrir a amplitude dos papéis sexuais e do simbolismo sexual nas várias sociedades e épocas, achar qual o seu sentido e como funcionavam para manter a ordem social e para mudá-la”.
Ademais, e talvez o mais importante, o “gênero” era um termo proposto por aquelas que defendiam que a pesquisa sobre mulheres transformaria fundamentalmente os paradigmas no seio de cada disciplina. As pesquisadoras feministas assinalaram muito cedo que o estudo das mulheres acrescentaria não só novos temas, como também iria impor uma reavaliação crítica das premissas e critérios do trabalho científico existente. “Aprendemos”, escreviam três historiadoras feministas, “que inscrever as mulheres na história implica necessariamente na redefinição e no alargamento das noções tradicionais do que é historicamente importante, para incluir tanto a experiência pessoal e subjetiva, quanto as atividades públicas e políticas. Não é exagerado dizer que, por mais hesitante que sejam os passos iniciais, esta metodologia implica não apenas em uma nova história das mulheres, mas em uma nova história”. A maneira como esta nova história iria simultaneamente incluir e apresentar a experiência das mulheres dependeria da maneira como o gênero poderia ser desenvolvido enquanto categoria de análise. Aqui as analogias com a classe e a raça eram explícitas; com efeito as(os) pesquisadoras(es) de estudos sobre a mulher que tinham uma visão política mais global, recorriam regularmente a essas três categorias para escrever uma nova história. “O interesse pelas categorias de classe, de raça e de gênero assinalava inicialmente o compromisso do(a) pesquisador(a) com uma historia que incluía a fala dos(as) oprimidos(as) e com uma análise do sentido e da natureza de sua opressão; assinalava também que esses(as) pesquisadores(as) levavam cientificamente em relação o fato de que as desigualdades de poder estão organizadas segundo, no mínimo, estes três eixos.
A ladainha “classe, raça e gênero” sugere uma paridade entre os três termos que, não existe. Enquanto a categoria de “classe” está baseada na complexa teoria de Marx (e seus desenvolvimentos posteriores) sobre a determinação econômica e a mudança histórica, as categorias de “raça” e “gênero” não veiculam tais associações. Não há unanimidade entre os(as) que utilizam os conceitos de classe. Alguns(mas) pesquisadores(as) utilizam as noções de Weber, outros(as) utilizam a classe como uma fórmula heurística temporária. Além disso, quando mencionamos a “classe”, trabalhamos com ou contra uma série de definições que, no caso do marxismo, impliquem uma idéia de causalidade econômica e numa visão do caminho pelo qual a história avançou dialeticamente. Não existe esse tipo de clareza ou coerência nem para acategoria de “raça” nem para a de “gênero”. No caso de “gênero”, o seu uso comporta um elenco tanto de posições teóricas, quanto de simples referências descritivas às relações entre os sexos.
Entretanto, os(as) historiadores(as) feministas – que como a maioria dos(as) historiadores(as) são formados(as) para ficar mais à vontade com descrições do que com teoria – tentaram cada vez mais buscar formulações teóricas utilizáveis. Eles(as) fizeram isso pelo menos por duas razões. Primeiro, porque a proliferação de estudos de caso na história das mulheres parece exigir uma perspectiva sintética que possa explicar as continuidades e descontinuidades e dar conta das desigualdades persistentes, mas também das experiências sociais radicalmente diferentes. Depois, porque a defasagem entre a alta qualidade dos trabalhos recentes em história das mulheres e o seu estatuto, que permanece marginal em relação ao conjunto da disciplina (que pode ser medida pelos manuais, programas universitários e monografias), mostra os limites das abordagens descritivas que não questionam os conceitos dominantes no seio da disciplina ou, pelo menos, não os questionam de forma a abalar o seu poder e, talvez, transformá-los. não foi suficiente para os(as) historiadores(as) das mulheres provar ou que as mulheres tiveram uma história ou que as mulheres participaram das mudanças políticas principais da civilização ocidental. No que diz respeito à história das mulheres, a reação da maioria dos(as) historiadores(as) não feministas foi reconhecê-la, colocá-la em um domínio separado ou descartá-la (“as mulheres têm uma história separada da dos homens, portanto deixemos as feministas fazer a história das mulheres, que não nos concerne necessariamente” ou “a história das mulheres trata do sexo e da família e deveria ser feita separadamente da história política e econômica”). No que diz respeita à participação das mulheres na história, a reação foi, no melhor dos casos, de um interesse mínimo (“Minha compreensão da Revolução Francesa não mudou quando eu descobri que as mulheres participaram dela”). O desafio lançado por este tipo de reação é, em último instância, um desafio teórico. Ele exige a análise não só da relação entre experiências masculinas e femininas no passado, mas, também, a ligação entre a história do passado e as práticas históricas atuais. Como é que o gênero funciona nas relações sociais humanas? Como é que o gênero dá um sentido à organização e à percepção do conhecimento histórico? As respostas dependem do gênero como categoria de análise. I
Na sua maioria, as tentativas das(os) historiadoras(es) de teorizar sobre gênero não fogem dos quadros tradicionais das ciências sociais: elas(es) utilizam as formulações antigas que propõem explicações causais universais. Essas teorias tiveram, no melhor dos casos, u, caráter limitado por tenderem a incluir generalizações redutoras ou simples demais, que minam não só o sentido da complexidade da causalidade social na forma proposta pela história como disciplina, mas também o engajamento feminista na elaboração de análises que levam à mudança. Um exame crítico destas teorias mostrará os seus limites e permitirá propor uma abordagem alternativa.
As abordagens utilizadas pela maioria dos(as) historiadores(as) se dividem em duas categorias distintas. A primeira é essencialmente descritiva, refere-se à existência de fenômenos ou realidades sem interpretá-los, explicá-los ou atribuir-lhes uma causalidade. O segundo uso é de ordem causal: ela elabora teorias sobre a natureza dos fenômenos e das realidades, buscando como e porque assumem a forma que têm.
No seu uso recente mais simples, “gênero” é sinônimo de “mulheres”. Durante os últimos anos, livros e artigos que tinham como tema a história das mulheres, substituíram em seus títulos o termo “mulheres” pelo termo “gênero”. Em alguns casos, este uso, ainda que se referindo vagamente a certos conceitos analíticos, trata realmente da aceitabilidade política desse campo de pesquisa. Nessas circunstâncias, o uso do termo “gênero” visa indicar a erudição e a seriedade de um trabalho, pois “gênero” tem uma conotação mais objetiva e neutra do que “mulheres”. O gêneroparece integrar-se à terminologia científica das ciências sociais e, por conseqüência, dissociar-se da política (pretensamente escandalosa) do feminismo. Neste uso, o termo gênero não implica necessariamente na tomada de posição sobre a desigualdade ou o poder, nem mesmo designa a parte lesada (e até agora invisível). Enquanto o termo “história das mulheres” revela sua posição política ao afirmar (contrariamente às práticas habituais) que as mulheres são sujeitos históricos válidos, o “gênero” inclui as mulheres sem as nomear, e parece assim não se constituir em uma ameaça crítica. Este uso do “gênero” é um aspecto que poderia ser chamado de procura de uma legitimidade acadêmica pelos estudos feministas nos anos ’80.
Mas isso é apenas um aspecto. “Gênero” como substituto de “mulheres” é igualmente utilizado para sugerir que a informação a respeito das mulheres é necessariamente informação sobre os homens, que um implica no estudo do outro. Este uso insiste na idéia de que o mundo das mulheres faz parte do mundo dos homens, que ele é criado dentro e por esse mundo. Esse uso rejeita a utilidade interpretativa da idéia das esferas separadas e defende que estudar as mulheres de forma isolada perpetua o mito de que uma esfera, a experiência de um sexo, tem muito pouco ou nada a ver com o outro sexo. Ademais, o gênero é igualmente utilizado para designar as relações sociais entre os sexos. O seu uso rejeita explicitamente as explicações biológicas, como aquelas que encontram um denominador comum para várias formas de subordinação no fato de que as mulheres têm filhos e que os homens têm uma força muscular superior. O gênero se torna, aliás, uma maneira de indicar as “construções sociais”: a criação inteiramente social das idéias sobre os papéis próprios aos homens e às mulheres. É uma maneira de se referir às origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas dos homens e das mulheres. O gênero é, segundo essa definição, uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado. Com a proliferação dos estudos do sexo e da sexualidade, o gênero se tornou uma palavra particularmente útil, porque oferece um meio de distinguir a prática sexual dos papéis atribuídos às mulheres e aos homens. Apesar do fato dos(as) pesquisadores(as) reconhecerem as conexões entre o sexo e o que os sociólogos da família chamaram de “papéis sexuais”, aqueles(as) não colocam entre os dois uma relação simples ou direta. O uso do “gênero” coloca a ênfase sobre todo o sistema de relações que pode incluir o sexo, mas que não é diretamente determinado pelo sexo nem determina diretamente a sexualidade.
Esses usos descritivos do gênero foram utilizados pelos(as) historiadores(as), na maioria dos casos, para mapear um novo terreno. Na medida em que os(as) historiadores(as) sociais se voltaram para novos temas de estudo, o gênero dizia respeito apenas a temas como as mulheres, as crianças, as famílias e as ideologias de gênero. Em outros termos, esse uso do gênero só se refere aos domínios – tanto estruturais quanto ideológicos – que implicam em relações entre os sexos. Porque, na aparência, a guerra, a diplomacia e a alta política têm explicitamente a ver com essas relações. O gênero parece não se aplicar a esses objetivos e, portanto, continua irrelevante para a reflexão dos(as) historiadores(as) que trabalham sobre o político e o poder. Isso resulta na adesão a uma certa visão funcionalista baseada, em última análise, sobre a biologia, bem como na perpetuação da idéia das esferas separadas (a sexualidade ou a política, a família ou a nação, as mulheres ou os homens) na escritura da história. Mesmo se nesse uso o termo “gênero” afirma que as relações entre os sexos são sociais, ele não diz nada sobre as razões pelas quais essas relações são construídas desta forma, como funcionam ou como mudam. No seu uso descritivo, o “gênero” é, portanto, um conceito associado ao estudo das coisas relativas às mulheres. O “gênero” é um novo tema, novo campo de pesquisas históricas, mas ele não tem a força deanálise suficiente para interrogar (e mudar) os paradigmas históricos existentes.
Alguns(mas) historiadores(as) estavam, naturalmente, conscientes desse problema, daí os esforços para empregar teorias que possam explicar o conceito de gênero e dar conta da mudançahistórica. De fato, o desafio é a reconciliação da teoria – que era concebida em termos gerais ou universais – com a história – que estava tratando do estudo de contextos específicos e da mudança fundamental. O resultado foi muito eclético: empréstimos parciais que enviesam a força de análisede uma teoria particular ou, pior, que empregam os seus preceitos sem ter consciência das suas implicações; ou então descrições da mudança que, por se basearem em teorias universais, só conseguem ilustrar temas imutáveis, ou ainda, estudos maravilhosos e cheios de imaginação nos quais a teoria é, entretanto, tão escondida que esses estudos não podem ser utilizados como modelos para outras pesquisas. Como frequentemente as teorias que inspiraram os(as) historiadores(as) não eram claramente desvendadas em todas as suas implicações, parece digno de interesse empregar algum tempo nesse exame. É unicamente através de tal exercício que se pode avaliar a utilidade dessas teorias e começar a articular uma abordagem teórica mais poderosa.
Os(as) historiadores(as) feministas utilizaram toda uma série de abordagens na análise do gênero, mas estas podem ser resumidas em três posições teóricas. A primeira, um esforço inteiramente feminista que tenta explicar as origens do patriarcado. A segunda se situa no seio de uma tradição marxista e procura um compromisso com as críticas feministas. A terceira, fundamentalmente dividida entre o pós-estruturalismo francês e as teorias anglo-americanas das relações de objeto, inspira-se nas várias escolas de psicanálise para explicar a produção e a reprodução da identidade de gênero do sujeito.
As teóricas do patriarcado concentraram sua atenção na subordinação das mulheres e encontraram a explicação para este fato na “necessidade” do macho dominar as mulheres. Na sua engenhosa adaptação de Hegel, Mary O’Brien, define a dominação masculina como um efeito do desejo dos homens de transcender a sua alienação dos meios de reprodução da espécie. O princípio da continuidade de geração restitui a primazia da paternidade e obscurece o labor real e a realidade social do trabalho das mulheres no parto. A fonte de libertação das mulheres se encontra “numa compreensão adequada do processo de reprodução”, numa apreciação da contradição entre a natureza do trabalho reprodutivo das mulheres e as mistificações ideológicas (masculinas) deste. Para Sulamith Firestone, a reprodução era também aquela “amarga armadilha” para as mulheres. Entretanto, na sua análise mais materialista, a libertação das mulheres viria das transformações na tecnologia de reprodução, que poderia no futuro próximo eliminar a necessidade do corpo das mulheres como agentes de reprodução da espécie.
Se a reprodução era a chave do patriarcado para algumas, para outras a resposta encontrava-se na sexualidade em si. As transformações audaciosas de Catherine Mackinnon são criações próprias mas, ao mesmo tempo, são características de uma certa abordagem. “A sexualidade é para o feminino o que o trabalho é para o marxismo: o que nos pertence mais e, no entanto, nos é mais alienado”. A reificação sexual é o processo primário da sujeição das mulheres. Ela alia o ato à palavra, a construção à expressão, a percepção à efetivação e o mito à realidade. “O homem come a mulher: sujeito, verbo, objeto”. Continuando a sua analogia com Marx, Mackinnon propôs como método de análise feminista, no lugar do materialismo dialético, os grupos de consciência. Expressando a experiência compartilhada de reificação, dizia ela, as mulheres compreendem sua identidade comum e são levadas para a ação política. Na análise de Mackinnon, apesar do fato de que as relações sexuais sejam definidas como sociais, não tem nada – fora a inerente desigualdade da relação sexual em si – que possa explicar por que o sistema de poder funciona assim. A fonte das relações desiguais entre sexos é, afinal de contas, as relações desiguais entre os sexos. Apesar dela afirmar que a desigualdade – que tem as suas origens na sexualidade – está integrada em “todo um sistema de relações sociais”, ela não explica como esse sistema funciona.
As teorias do patriarcado questionam a desigualdade entre homens e mulheres de várias maneiras importantes, mas para os(as) historiadores(as) as suas teorias colocam alguns problemas. Enquanto aquelas propõem uma análise interna ao sistema do gênero, afirmam igualmente a primazia desse sistema em relação à organização social no seu conjunto. Mas as teorias do patriarcado não explicam o que é que a desigualdade de gênero tem a ver com as outras desigualdades. Segundo, que a dominação venha na forma de apropriação masculina do labor reprodutivo da mulher, ou que ela venha pela reificação sexual das mulheres pelos homens, aanálise baseia-se na diferença física. Toda diferença física tem um caráter universal e imutável mesmo quando as teóricas do patriarcado levam em consideração a existência de mudanças nas formas e nos sistemas de desigualdade de gênero. Uma teoria que se baseia na variável única da diferença física é problemática para os(as) historiadores(as): elas pressupõe um sentido coerente ou inerente ao corpo humano – fora qualquer construção sócio-cultural – e portanto, a não historicidade do gênero em si. De um certo ponto de vista, a história se torna um epifenômeno que oferece variações intermináveis sobre o tema imutável de uma desigualdade de gênero fixa.
As feministas marxistas têm uma abordagem mais histórica, já que são guiadas por uma teoria da história. Mas qualquer que sejam as variações e as adaptações, o fato de que elas se impõem a exigência de encontrar uma explicação “material” para o gênero, limitou ou, pelo menos, atrasou o desenvolvimento de novas direções de análise. Tanto nas análises que propõem uma solução baseada nos chamados sistemas duais (compostos de dois domínios: o patriarcado e o capitalismo, separados mas em interação), como naquelas que se apoiam mais firmemente nos debates marxistas ortodoxos sobre modos de produção, a explicação das origens e das transformações de sistemas de gêneros é encontrada fora da divisão sexual do trabalho. Afinal de contas, famílias, lares e sexualidade são produtos de modos de produção que mudam. É assim que Engels concluía as suas explorações na Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, é sobre isso que se baseia a análise da economista Heidi Hartmann. Ela insiste sobre a necessidade de considerar o patriarcado e o capitalismo como dois sistemas separados, mas em interação. Porém, na medida em que desenvolve a sua argumentação, a causalidade econômica se torna prioritária e o patriarcado está sempre se desenvolvendo e mudando como uma função das relações de produção.
Os primeiros debates entre as feministas marxistas giravam em torno dos mesmo problemas: a rejeição do essencialismo daqueles que defendem que “as exigências da reprodução biológica” determinam a divisão sexual do trabalho pelo capitalismo; o caráter fútil da integração dos “modos de reprodução” nos debates sobre os modos de reprodução (a reprodução permanece umacategoria de oposição e não assume um estatuto equivalente no de modo de produção); o reconhecimento de que os sistemas econômicos não determinam diretamente as relações degênero e que, de fato, a subordinação das mulheres é anterior ao capitalismo e continua sob o socialismo; a busca, apesar de tudo, de uma explicação materialista que exclua as diferenças físicas naturais. Uma tentativa importante de sair desse círculo veio de Joan Kelly no seu ensaio “A Dupla Visão da Teoria Feminista”, onde ela defendia que os sistemas econômicos e os sistemas degênero interagiam para produzir experiências sociais e históricas; que nenhum dos dois sistemas era causal, mas que ambos “operavam simultaneamente para produzir as estruturas sócio-econômicas e de dominação masculina de uma ordem social particular”. A idéia de Kelly de que os sistemas de “gênero” teriam uma existência independente se constitui numa abertura conceitual decisiva, mas sua vontade de permanecer no quadro marxista levou-a a dar ênfase ao papel causal dos fatores econômicos, inclusive no que diz respeito à determinação do sistema de gênero – “As relações entre os sexos opera de acordo com e através das estruturas sócio-econômicas, bem como das estruturas de sexo/gênero”. Kelly introduziu a idéia de uma “realidade social baseada no sexo”, mas ela tinha tendência a enfatizar a natureza social dessa realidade mais do que sexual e, muitas vezes, o uso que ela fazia do “social” era concebido em termos de relações econômicas de produção.
A exploração da sexualidade, que foi mais longe entre as feministas marxistas americanas, encontra-se no “Powers of Desire”, um volume de ensaios publicados em 1983. Influenciadas, por um lado, pela atenção crescente dada à sexualidade pelos militantes e pesquisadores, por um lado, pela insistência do filósofo francês Michhel Foucault de que a sexualidade é produzida em contextos históricos; e por fim, pela convicção de que a “revolução sexual” contemporânea exige uma análise séria, as autoras centraram suas interrogações sobre a “política sexual”. Desta maneira, elas colocaram a questão da causalidade e propuseram uma série de soluções. De fato, o mais sugestivo nesse volume é a falta de unanimidade analítica, privilegiando a tensão na análise. Se certas autoras tendem individualmente a sublinhar a causalidade dos contextos sociais (muitas vezes entendidos como econômicos), no entanto, elas sugerem a necessidade de estudar “a estruturação psíquica da identidade de gênero”. Se às vezes está dito que a “ideologia de gênero” “reflete” as estruturas econômicas e sociais, também há o reconhecimento crucial da necessidade de se compreender a complexa “ligação entre a sociedade e uma estrutura psíquica persistente”. De um lado, as responsáveis pela antologia adotam o argumento de Jessica Benjamin, segundo o qual a política deveria incluir em sua análise a atenção “sobre componentes eróticos e fantasmáticos da vida humana” mas, por outra parte, nenhum ensaio, além do de Benjamin, aborda plenamente ou seriamente as questões teóricas que ela coloca. Em vez disso, há sobretudo um pressuposto tácito que percorre o volume, segundo o qual o marxismo poderia ser alargado para incluir as discussões sobre a ideologia, a cultura e a psicologia e que esse alargamento será efetuado através de pesquisas sobre dados concretos, como aquelas que são feitas na maioria dos artigos. A vantagem de uma tal abordagem é que ela evita divergências agudas, e a sua desvantagem é que ela deixa intacta uma teoria já inteiramente articulada que leva de volta às relações entre os sexos para as relações de produção.
Uma comparação entre as tentativas das feministas marxistas americanas – exploratórias e relativamente abrangentes – e as das suas homólogas inglesas, mais estreitamente ligadas à política de uma forte e viável tradição marxista, revela que as inglesas têm tido mais dificuldades em desafiar os limites de explicações estritamente deterministas. Essa dificuldade se expressa de forma mais espetacular nos recentes debates que foram publicados na New Left Rewiew entre Michéle Barrett e seus(suas) críticos(as), que a acusavam de abandonar uma análise materialista da divisão sexual do trabalho no capitalismo. Ela se expressa também pelo fato de que os(as) pesquisadores(as) que tinham iniciado uma tentativa feminista de reconciliação entre a psicanálise e o marxismo e que tinham insistido na possibilidade de uma certa fusão entre os dois, escolham hoje uma ou outra dessas posições teóricas. A dificuldade para as feministas inglesas e americanas que trabalhavam nos quadros do maxismo é aparente nas obras que eu mencionei aqui. O problema com o qual elas se defrontam é o inverso daqueles que a teoria do patriarcado coloca. Pois no interior do marxismo, o conceito de gênero foi por muito tempo tratado como sub-produto de estruturas econômicas mutantes; o gênero não tem tido o seu próprio estatuto de análise.
Um exame da teoria psicanalítica exige uma distinção entre as escolas, já que se teve a tendência a classificar as diferenças da abordagem segundo as origens nacionais dos seus fundadores ou da maioria daqueles ou daquelas que os aplicam. A escola anglo-americana trabalha dentro dos termos das teorias das relações objetais. Nos Estados Unidos, o nome de Nancy Chodorow é o mais associado a essa abordagem. Além disso, o trabalho de Carol Gilligan tem tido um impacto muito grande sobre a produção científica americana, inclusive na área da história. O trabalho de Gilligan inspira-se no trabalho de Chorodow, mesmo se ele enfoca menos a construção do sujeito do que o desenvolvimento moral e o comportamento. Ao contrário da anglo-americana, a escola francesa baseia-se nas leituras estruturalistas e pós-estruturalistas de Freud, nos termos das teorias da linguagem (para as feministas a figura central é Jacques Lacan).
As duas escolas interessam-se pelos processos através dos quais foi criada a identidade do sujeito, ambas centram o seu interesse nas primeiras etapas do desenvolvimento da criança com o objetivo de encontrar indicações sobre a formação da identidade de gênero. As teóricas das relações objetais colocam a ênfase sobre a influência da experiência concreta (a criança vê, tem relações com as pessoas que cuidam dela e, em particular, naturalmente, com os seus pais), ao passo que os pós-estruturalistas linguagem não designa unicamente as palavras, mas os sistemas de significação, as ordens simbólicas que antecedem o Domínio da palavra propriamente dita, da leitura e da escrita). Uma outra diferença entre essas duas escolas de pensamento diz respeito ao inconsciente que, para Chodorow, é, em última instância, suscetível de compreensão consciente do sujeito. Ademais, é o lugar de emergência da divisão sexual e, por essa razão, um lugar de instabilidade constante para o sujeito sexuado.
Nos anos recentes as historiadoras feministas têm sido atraídas por essas teorias ou porque elas permitem fundamentar conclusões particulares para observações gerais, ou porque elas parecem oferecer uma formulação teórica importante no que diz respeito ao gênero. Cada vez mais, os(as) historiadores(as) que trabalham com o conceito de “cultura feminina” citam as obras de Chodorow e Gilligan como provas e como explicações das suas interpretação; aquelas que se debatem com a teoria feminista, se voltam em direção a Lacan. Afinal de contas, nenhuma dessas teorias me parece inteiramente utilizável pelos(as) historiadores(as), um olhar mais atento sobre cada uma delas poderia ajudar a explicar o porque.
Minhas reticências frente à teoria das relações objetais provêm do seu literalismo, do fato de que ela faz a produção da identidade de gênero e a gênese da mudança dependerem de estruturas de interpelação relativamente pequenas. Tanto a divisão do trabalho na família quanto a atribuição concreta de tarefas a cada um dos pais têm um papel crucial na teoria de Chodorow. O produto do sistema dominante ocidental é uma divisão nítida entre masculino e feminino: “o sentido feminino do Eu é fundamentalmente ligado ao mundo, o sentido masculino do Eu é fundamentalmente separado do mundo”. Segundo Chodorow, se os pais fossem mais envolvidos nos deveres parentais e mais presentes nas situações domésticas, os resultados do drama edipiano seriam provavelmente diferentes.
Essa interpretação limita o conceito de gênero à esfera da família e à experiência doméstica e, para o(a) historiador(a), ela não deixa meios de ligar esse conceito (nem o indivíduo) com outros sistemas sociais, econômicos, políticos ou de poder. Sem dúvida, está implícito que as disposições sociais que exigem que os pais trabalhem e as mães cuidem da maioria das tarefas de criação dos filhos, estruturam a organização da família. Mas a origem desses disposições sociais não está clara, nem o porque delas serem articuladas em termos da divisão sexual do trabalho. Não se encontra também nenhuma interrogação sobre o problema da desigualdade em oposição àquele da simetria. Como podemos explicar, no seio dessa teoria, as associações persistentes da masculinidade com o poder e o fato de que os valores mais altos estão mais investidos na qualidade de masculino do que na qualidade de feminino? Como podemos explicar o fato de que as crianças aprendem essas associações e avaliações mesmo quando elas vivem fora dos lares nucleares ou dentro de lares onde o marido e a mulher dividem as tarefas parentais? Eu acho que não podemos fazer isso sem dar uma certa atenção aos sistemas de significação, isto é, às maneiras como as sociedades representam o gênero, utilizam-no para articular regras de relações sociais ou para construir o sentido da experiência. Sem o sentido não há experiência; sem processo de significação não há sentido.
A linguagem é o centro da teoria lacaniana; é a chave do acesso da criança à ordem simbólica. Através da linguagem a identidade de gênero é construída. Segundo Lacan, o fato é o significante central da diferença sexual, mas o sentido do falo tem que ser lido de forma metafórica. O drama edipiano faz com que a criança conheça os termos da interação cultural, já que a ameaça de castração representa o poder, as regras da Lei (de Pai). A relação da criança com a Lei depende da diferença sexual, da sua identificação imaginária (ou fantasmática) com a masculinidade ou feminilidade. Em outros termos, a imposição das regras da interação social é inerente e especificamente de gênero, já que a relação feminina com o falo é obrigatoriamente diferente da relação masculina. Mas a identificação de gênero, mesmo quando ela aparece como sendo coerente e fixa é, de fato, extremamente instável. Da mesma forma que os sistemas de significação, as identidades subjetivas são processos de diferenciação e de distinção, que exigem a supressão das ambiguidades e dos elementos opostos a fim de assegurar (de criar a ilusão de) uma coerência e uma compreensão comuns. O princípio de masculinidade baseia-se na repressão necessária dos aspectos femininos – do potencial bissexual do sujeito; e introduz o conflito na oposição entre o masculino e o feminino. Desejos reprimidos estão presentes na unidade e subvertendo sua necessidade de segurança. Ademais, as idéias conscientes do masculino e do feminino não são fixas, já que elas variam segundo os usos do contexto. Portanto, existe sempre um conflito entre a necessidade que o sujeito tem de uma aparência de totalidade e a imprecisão da terminologia, relatividade do seu significado e sua dependência em relação à repressão. Esse tipo de interpretação torna problemáticas as categorias “homem” e “mulher”, sugerindo que o masculino que o masculino e o feminino não são características inerentes, mas construções subjetivas (ou fictícias). Essa interpretação implica também que sujeito se encontra num processo constante de construção e oferece um meio sistemático de interpretar o desejo consciente e inconsciente, referindo-se à linguagem como um lugar adequado para a análise. Enquanto tal considero-a instrutiva.
No entanto me incomoda a fixação exclusiva sobre as questões relativas ao sujeito individual e tendência a reificar como a dimensão principal do gênero, o antagonismo subjetivamente produzido entre homens e mulheres. Ademais, mesmo ficando em aberto a maneira como “o sujeito” é construído, a teoria tende a universalizar as categorias e a relação entre homem e mulher. A conseqüência para os(as) historiadores(as) é uma leitura redutora dos dados do passado. Mesmo se esta teoria leva em consideração as relações sociais articulando a castração com a proibição e a lei, ela não permite a introdução de uma noção de especificidade e de variabilidade histórica. O fato é o único significante, o processo de construção do sujeito de gênero é, em última instância, previsível, já que é sempre o mesmo. Se nós pensarmos a construção da subjetividade em contextos históricos e sociais como sugere a teórica de cinema Teresa de Lauretis, não há meio de precisar estes contextos nos termos propostos por Lacan. De fato, mesmo na tentativa de Lauretis, a realidade social (isto é, “as relações materiais, econômicas e interpessoais que são de fato sociais, e numa perspectiva mais amplamente históricas”) parece situar-se à revelia do sujeito. Falta uma maneira de conceber a “realidade social” em termos de gênero.
A política constitui apenas um dos domínios onde o gênero pode ser utilizado para a análisehistórica. Eu escolhi por duas razões os seguintes exemplos ligados à política e ao poder no seu sentido mais tradicional, isto é, no que diz respeito ao governo e ao Estado-Nação. Primeiro, porque se trata de um território praticamente inexplorável, já que o g6enero foi percebido como umacategoria antitética aos negócios sérios da verdadeira política. Depois, porque a história política – que ainda é o modo dominante da interrogação histórica – foi o bastião da resistência à inclusão de materiais ou de questões sobre as mulheres e o gênero.
O gênero foi utilizado literal ou analogicamente pela teoria política para justificar ou criticar o reinado de monarcas ou para expressar relações entre governantes e governos. Poder-se-ia esperar que tenha existido debate entre os contemporâneos dos reinos de Elizabeth I da Inglaterra ou Catherine de Médicis na França sobre a adequação das mulheres à direção política; mas numa época em que parentesco e realeza eram intrinsecamente ligados, as discussões sobre os reis machos colocavam igualmente em jogo representações da masculinidade e da feminilidade. As analogias com a relação marital constituem uma estrutura para os argumentos de Jean Bodin, Robert Filmer e John Locke. O ataque de Edmond Burke contra a Revolução Francesa se desenvolve em torno de um contraste entre as harpias feias e matadoras “sans culottes” (“as fúrias do inferno sob a forma desnaturada da mais vil das mulheres”) e a “doce feminilidade” de Marie-Antoinette que escapou à multidão para “procurar refúgio aos pés de um rei e de um marido” e cuja beleza tinha antigamente inspirado o orgulho nacional (referindo-se ao papel apropriado ao feminino na ordem política Burke escreveu: “para que se possa amar a nossa pátria, a nossa pátria tem que ser amável”). Mas a analogia não diz respeito sempre no casamento, nem mesmo à heterossexualidade. Na teoria política da Idade Média islâmica, o símbolo do poder político faz mais freqüentemente alusão às relações sexuais entre um homem e um menino, sugerindo não só a existência de formas de sexualidade aceitáveis comparáveis àquelas que Foucault descreve em seu último livro a respeito da Grécia Clássica, mas também à irrelevância das mulheres para qualquer noção de política ou de vida pública.
Para que este último comentário não seja interpretado como a idéia de que a teoria política reflete simplesmente a organização social, parece importante ressaltar que a mudança nas relações degênero pode acontecer a partir de considerações sobre as necessidade do Estado. Um exemplo importante é fornecido pela argumentação de Louis de Bonald em 1816, sobre as razões pelas quais a legislação da Revolução Francesa sobre o divórcio devia ser revogada: da mesma forma que a democracia política “permite ao povo, parte fraca da sociedade política, rebelar-se contra o poder estabelecido”, da mesma forma o divórcio, “verdadeira democracia doméstica”, permite à esposa, “parte mais fraca, rebelar-se contra a autoridade do marido(...) A fim de manter o Estado fora do alcance do povo, é necessário manter a família fora do alcance das esposas e das crianças”.
Bonald começa com uma analogia para, em seguida, estabelecer uma correspondência direta entre o divórcio e a democracia. Retomando argumentos bem mais antigos a respeito da família bem ordenada como fundamento do Estado bem ordenado, a legislação que estabeleceu essa posição redefiniu os limites da relação marital. Da mesma forma, na nossa época, os ideólogos políticos conservadores gostariam de fazer passar toda uma série de leis sobre a organização e o comportamento da família, que modificariam as práticas atuais. A ligação entre os regimes autoritários e o controle das mulheres tem sido observada, mas não foi estudada com profundidade. Seja num momento crítico para a hegemonia jacobina durante a Revolução Francesa, seja na hora em que Stálin apoderou-se da autoridade de controle, ou na época da implementação da política nazista na Alemanha, ou ainda no triunfo do Aiatolá Khomeiny no Irã, em todas essas circunstâncias, os dirigentes emergentes, legitimavam a dominação, a força, a autoridade central e o poder soberano identificando-os ao masculino (os inimigos, os “outsiders”, os subversivos e a fraqueza eram identificados ao feminino), e traduziam literalmente esse código em leis (proibindo sua participação na vida política, tornando o aborto ilegal, proibindo o trabalho assalariado das mães, impondo códigos de vestuário à mulheres) que colocavam as mulheres em seu lugar. Essas ações e a época de sua realização têm pouco sentido em si mesmas. Na maioria dos casos, o Estado não tinha nada de imediato ou nada de material a ganhar com o controle das mulheres. Essas ações só podem adquirir em sentido se elas são integradas a uma análise da construção e da consolidação do poder. Uma afirmação de controle ou de força tomou a forma de uma política sobre as mulheres. Eles podem nos dar idéias sobre os diversos tipos de relações de poder que se constróem na história moderna, mas essa relação particular não constitui um tema político universal. Segundo modos diferentes, por exemplo, o regime democrático do século XX tem igualmente construído as suas ideologias políticas a partir de conceitos de gênero que se traduziram em políticas concretas; o Estado de Bem-Estar Social, por exemplo, demonstrou seu paternalismo protetor através de leis dirigidas às mulheres e às crianças. Ao longo da história, alguns movimentos socialistas ou anarquistas recusaram completamente as metáforas de dominação, apresentando de forma imaginativa as suas críticas aos regimes e organizações sociais particulares, em termos de transformação da identidade de gênero. Os socialistas utópicos na França e na Inglaterra nos anos de 1830 e 1840 conceberam sonhos de um futuro harmonioso em termos das naturezas complementares dos indivíduos, ilustrados pelo união do homem e da mulher, “o indivíduo social”. Os anarquistas europeus eram conhecidos desde muito tempo pela sua recusa das convenções do casamento burguês, mas também pelas suas visões de um mundo no qual as diferenças sexuais não implicariam em hierarquia.
Trata-se de exemplos de ligações explícitas entre o gênero e o poder, mas estas constituem apenas uma parte da minha definição do gênero como um modo primeiro de significar as relações de poder. Frequentemente, a atenção dedicada ao gênero não é explícita mas constitui, no entanto, uma dimensão decisiva da organização da igualdade e desigualdade. As estruturas hierárquicas baseiam-se em compreensões generalizadas da relação pretensamente natural entre homem e mulher. A articulação do conceito de classe no século XIX baseava-se no gênero. Enquanto na França, por exemplo, os reformadores burgueses descreviam os operários em termos codificados como femininos (subordinados, fracos, sexualmente explorados como as prostitutas), ou dirigentes operários e socialistas respondiam insistindo na posição masculina da classe operária (produtores fortes, protetores das mulheres e das crianças). Os termos desse discurso não diziam respeito explicitamente ao gênero, mas eram reforçados na medida em que se referenciavam a ele. A codificação de gênero de certos termos estabelecia e “naturalizava” seus significados. Nesse processo, definições normativas do gênero, historicamente específicas (e tomadas como dadas), reproduziram-se e integraram-se à cultura da classe operária francesa.
Os temas da guerra, da diplomacia e da alta política aparecem frequentemente quando os(as) historiadores(as) da história política tradicional colocam em questão a utilidade do gênero para o seu trabalho. Mas, também, temos que olhar além dos atores e do valor literal das suas palavras. As relações de poder entre as nações e o estatuto dos súditos coloniais foram tomados compreensíveis (e portanto legítimos) em termos das relações entre homem e mulher. A legitimação da guerra – sacrificar vidas de jovens para proteger o Estado – tomou formas diversificadas, desde o apelo explícito à virilidade (a necessidade de defender as mulheres e as crianças, que de outra forma seriam vulneráveis) até a crença no dever que teriam os filhos de servir aos seus dirigentes ou a seu (pai o) rei, e até associações entre masculinidade e potência nacional. A alta política, ela mesma, é um conceito de gênero porque estabelece a sua importância decisiva e seu poder público, as razões de ser e a realidade da existência de sua autoridade superior, precisamente graças a exclusão das mulheres do seu funcionamento. O gênero é uma das referências recorrentes pelas quais o poder político foi concebido, legitimado e criticado. Ele se refere à oposição homem/mulher e fundamenta ao mesmo tempo o seu sentido. Para reivindicar o poder político, a referência tem que parecer segura e fixa, fora de qualquer construção humana, fazendo parte da ordem natural ou divina. Desta forma, a oposição binária e o processo social das relações de gênero tornam-se, ambos, partes do sentido do próprio poder. Colocar em questão ou mudar um aspecto ameaça o sistema por inteiro.
Se as significações de gênero e de poder se constróem reciprocamente, como é que as coisas mudam? De um ponto de vista geral responde-se que a mudança pode ter várias origens. Transtornos políticos de massa que coloquem as ordens antigas em caos e engendrem novas, podem revisar os termos (e, portanto, a organização) do gênero na procura de novas formas de legitimação. Mas eles podem não fazê-lo; noções antigas serviram igualmente para validar novos regimes. Crises demográficas, causadas pela fome, pestes ou guerras, colocaram, às vezes, em questão as visões normativas do casamento heterossexual (como foi o caso em certos meios de certos países no decorrer dos anos 20); mas também, provocaram políticas natalistas que insistiram na importância exclusiva das funções maternas e reprodutivas das mulheres. Transformações nas estruturas do emprego podem modificar as estratégias de casamento; elas podem oferecer novas possibilidades para a construção da subjetividade, mas elas podem também ser vividas como novo espaço de atividade para filhas e esposas obedientes. A emergência de novos tipos de símbolos culturais pode tornar possível a reinterpretação ou mesmo a reescritura da história edipiana, mas ela pode servir para atualizar este drama terrível em termos ainda mais eloquentes. São os processos políticos que vão determinar o resultado de quem vencerá – políticos no sentido de que vários atores e várias significações enfrentam-se para conseguir o controle. A natureza desse processo, dos atores e das ações, só pode ser determinada especificamente se situada no espaço e no tempo. Só podemos escrever a história desse processo se reconhecermos que “homem” e “mulher” são ao mesmo tempo categorias vazias e transbordantes; vazias porque elas não têm nenhum significado definitivo e transcendentes; transbordantes porque, mesmo quando parecem fixadas, elas contêm ainda dentro delas definições alternativas negadas ou reprimidas.
Em um certo sentido, a história política foi encenada no terreno do gênero. É um terreno que parece fixado, mas cujo sentido é contestado e flutuante. Se tratarmos da oposição entre masculino e feminino como sendo mais problemática do que conhecida, como alguma coisa que é definida e constantemente construída num contexto concreto, temos então que perguntar não só o que é que está em jogo nas proclamações ou nos debates que invocam o gênero para explicar ou justificar suas posições, mas também, como compreensões implícitas do gênero são invocadas ou reativadas. Qual é a relação entre as leis sobre as mulheres e o poder do Estado? Por que (e desde quando) as mulheres são invisíveis como sujeitos históricos, quando sabemos que elas participaram dos grandes e pequenos eventos da história humana? O gênero tem legitimado a emergência de carreiras profissionais? Para citar o título de um artigo recente da feminista francesa Luce Irigaray, o sujeito da ciência é sexuado? Qual é a relação entre a política do Estado e a descoberta do crime de homossexualidade? Como as instituições sociais têm incorporado o gênero nos seus pressupostos e na sua organização? Já houve conceitos de gênero realmente igualitário sobre os quais foram projetados ou mesmo baseados sistemas políticos?
A exploração dessas perguntas fará emergir uma história que oferecerá novas perspectivas às velhas questões (sobre, por exemplo, como é imposto o poder político, qual é o impacto da guerra sobre a sociedade), redefinirá as antigas questões em termos novos (introduzindo, por exemplo, considerações sobre a família e a sexualidade no estudo da economia e da guerra), tornará as mulheres visíveis como participantes ativas e estabelecerá uma distância analítica entre a linguagem aparentemente fixada do passado e nossa própria terminologia. Além do mais, essa nova história abrirá possibilidades para a reflexão sobre as estratégias políticas feministas atuais e o futuro (utópico), porque ela sugere que o gênero tem que ser redefinido e reestruturado em conjunção com uma visão de igualdade política e social que inclui não só o sexo, mas também, a classe e a raça.
**(professora de Ciências Sociais no Instituto para Estudos Avançados de Princeton)
Tradução: Christine Rufino Dabat e Maria Betânia Ávila